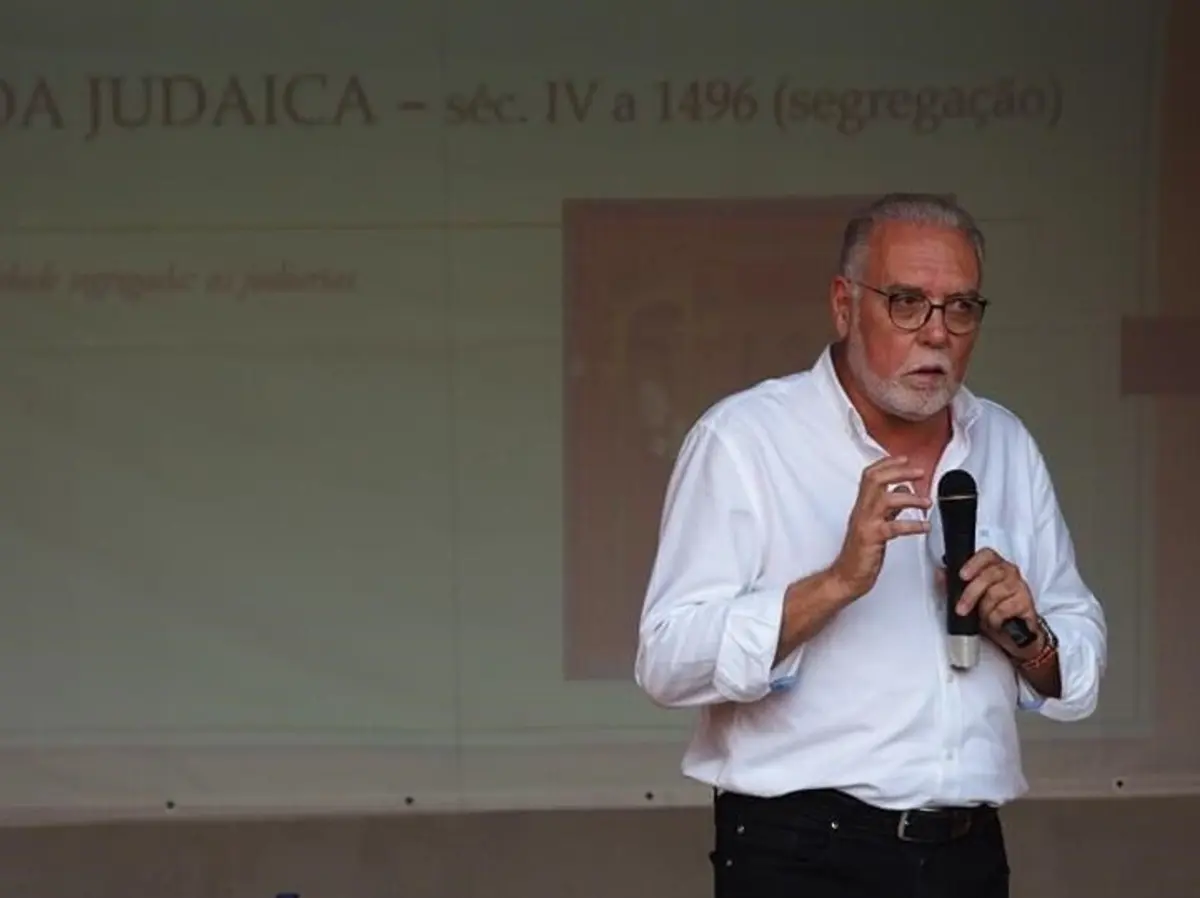
"A atual pauperização da classe média está a favorecer o populismo", diz o autor de "Lisboa nazi"
Foto: D.R.
O historiador e romancista Sérgio Luís de Carvalho, que publicou recentemente "A dança dos loucos" e "Das tripas coração", defende em entrevista ao JN que os tempos "radicalmente novos" que vivemos tornam impossível qualquer comparação do presente com outro período histórico.
O conhecimento da História é o melhor antídoto contra o surgimento de riscos tão variados como a intolerância, a demagogia ou oo populismo, acredita Sérgio Luis de Carvalho. Com uma obra extensa que acaba de ser enriquecida com um romance (“A dança dos loucos”) e um ensaio (“Das tripas coração”), o Autor do Mês de junho no “Jornal de Notícias” acredita ainda que esse conhecimento histórico contribui ainda a compreensão do presente.
Se tivesse que comparar os tempos em que vivemos com uma época histórica, qual seria?
Não há comparação com épocas anteriores, pelo menos em termos materiais e do que daí decorre. Os tempos, hoje, são radicalmente novos. Hoje temos uma tecnologia com que não sonhávamos há 20 anos e uma aceleração exponencial do conhecimento técnico. Isto abre portas desconhecidas e nunca antes supostas. Quem, há uns anos, adivinharia a preponderância dos telemóveis na nossa vida quotidiana, de tal modo que se o perdermos, nos sentimos desarmados e nus? Isto tem reflexos ao nível dos relacionamentos pessoais e do conhecimento, claro. Ao mesmo tempo, a nossa alienação começa a ser notória.
Impossível uma comparação, estes são tempos totalmente novos. Há hoje grandes potencialidades, claro, mas creio que a referida alienação em que tantos vivem começa a ser preocupante.
Em seu entender, aprendemos ou não com as lições da História ou estamos condenados a repetir os erros?
Há uma velha piada que diz que só há uma lição da História: “As pessoas nunca aprendem com as lições da História”. É verdade. Por isso é fácil manipular tanta gente, tanto mais que muitos vivem em alienação, como antes referi. Não estou a dizer com isto que a História se repita, necessariamente. Ao certo, nem sei bem o que isso é…
Mas há, por certo, linhas de rumo, linhas de força que permanecem, que recidivam. Por exemplo, a atual pauperização da classe média está a favorecer o populismo, tal como nos anos 30 essa mesma pauperização favoreceu o fascismo. E o fascismo é um populismo (e vice-versa?).
O desespero de muita gente, a alienação de outras tantas e a desinformação generalizada e manipuladora, são ingredientes de uma mistura venenosa, em termos políticos e em termos sociais.
Entre a visão glorificadora da nossa História, ministrada durante o Estado Novo, ou a vergonha e culpa que a cultura do cancelamento quer promover à força, há ou não uma terceira via alternativa?
Não há “vias”. Na narração da História só há uma via: a da honestidade intelectual, a da correta e sã metodologia histórica, a da crítica constante, a da boa análise documental, a da interpretação ponderada das fontes documentais. O resto, tudo o que não passa por este crivo, é um desvirtuamento da História com fins políticos.
A glorificadora visão histórica do Estado Novo servia um propósito; a cultura de cancelamento é um modismo perigoso que também cumpre um propósito. Por coincidência (ou não) ambas as visões são repressivas, por estarem ao serviço de algo que ultrapassa a História e que não permite outras interpretações.
Esta negação ahistórica, esta negação da investigação científica da História, não se restringe já a esta disciplina, note-se. Há hoje negacionismos científicos em todas as áreas. Lá está… É a tal irracionalidade à solta.
Repita-se, é o mal que sempre ocorre quando a ciência é posta ao serviço de algo que nada tem a ver com ela.
O ensino de História nos nossos programas está circunscrito a um papel de irrelevância?
Não creio. Ou, pelo menos, ainda não. A História ainda tem um lugar de relevo nos programas escolares, mesmo se, muitas vezes, dada em condições que não permitem que se dê com a qualidade que se deseja (horas insuficientes ou aligeiramento de conteúdos, por exemplo).
É claro que a História não é o único ramo do conhecimento que é importante, muitos outros há que devem ser ministrados com igual rigor. Para mim, mais grave que a questão da suposta crescente irrelevância da História dos nossos programas, é a crescente infantilização dos nossos jovens, a atitude da sociedade perante a Escola -e os seus atores- e o progressivo abaixamento dos padrões de exigência.
Isto gera desigualdades sociais, pois quem “pode” coloca os filhos em escolas mais seletivas e mais exigentes, escolas que, precisamente por serem mais seletivas, podem ser mais exigentes.
Claro que a História, por ser uma disciplina iminentemente crítica e que permite compreender melhor o real, sofre muito com esse desinvestimento ao nível da exigência.
Em que sentido a cultura do cancelamento pode ser uma ameaça para o ensino de História?
A cultura de cancelamento, ao colocar a História ao serviço de uma causa, é uma ameaça, claro. Dissemos já isso.
Como qualquer corrente ou qualquer tendência que faça o mesmo, isto é, qualquer corrente ou tendência que coloque um ramo científico e de conhecimento ao serviço de uma causa. A causa acabará sempre por deturpar a narrativa histórica e por manipular o conhecimento.
Claro que outra coisa diferente -e sã- é ter um discurso crítico sobre o passado. Mas isso só será feito se a narrativa que sustenta esse discurso sadiamente crítico for correta, honesta e científica. Decerto que a nossa visão do passado muda e altera-se ao longo dos tempos; mas aquelas três bases (correção, honestidade e cientificidade) não podem ser constrangidas.
Além do mais, a cultura de cancelamento tem, no caso da História, uma vertente de anacronismo. Isto é, vemos o passado pelos olhos, valores e noções do presente. O que é de uma arrogância enorme.
Há, claro, ainda outros perigos decorrentes da cultura do cancelamento. Ao assumir uma função justiceira “à força” e através da censura, a cultura de cancelamento pode voltar-se contra as próprias causas (amiúde, justas) que diz servir. O excesso provoca sempre anticorpos, e muita gente, nem sempre bem-intencionada, pode associar os excessos da cultura de cancelamento às causas que visa defender, diminuindo estas.
A cultura de cancelamento lembra-me sempre o Index inquisitorial. O Index era uma enorme lista de livros que a Inquisição interditava. Não se podiam ter, ler ou sequer falar deles…
Por mim, prefiro a velha frase que se atribui a Voltaire: “Posso não concordar com o que dizes; mas bater-me-ei até ao fim para que tenhas a liberdade de o dizer”
Acha que os governantes devem pedir desculpa em nome do povo que representam pelos crimes e atrocidades cometidas pelos seus antepassados?
Nalguns casos, compreendo tais pedidos. Geralmente, são casos extremos, como genocídios, sobretudo os mais recentes, aqueles que ocorreram em épocas em que tal era já muito mal visto… Muitas vezes, são decisões mais políticas que históricas, que eu até posso eventualmente entender.
Mas pedir perdão por modismo, como hoje, por vezes, sucede, sobretudo se for um pedido por factos ocorridos há muito tempo e revisitados pelos nossos olhos de hoje (muito diferentes dos de outrora) parece-me um pouco deslocado. Os pedidos de desculpa devem ser muito ponderados e parcimoniosos, sob pena de se banalizarem, e por isso, perderem valor e sinceridade.
Já ambientou ensaios romances nos mais variados períodos históricos. Não há época que lhe desperte pouco interesse?
Todas me interessam. É o que faz gostar tanto de História. Bom, apesar disso, é verdade que gosto mais de umas que de outras... Mas uma boa história encontra-se sempre em qualquer época, até porque pessoas interessantes e as histórias dignas de ser contadas, são intemporais…
Apesar do rigor que coloca no seu trabalho, não encaixa por inteiro no perfil do historiador tradicional, apenas focado na transmissão avulsa de conhecimentos. Que marca procura deixar em quem o lê?
Se me permite, não creio que haja transmissão avulsa de conhecimento. Toda a transmissão de conhecimento está enquadrada - melhor ou pior - numa visão mais geral, na qual se inscreve. Ou devia ser assim, pelo menos… Mesmo a “pequena história” tem a sua utilidade e, em derradeira instância, enriquece-nos.
Já a marca que fica em cada leitor depende dele, e depende do que ele busca em cada livro. Por mim, gostaria que um leitor olhasse para a História com mais carinho e mais interesse, que olhasse para o nosso património com outra estima (até porque é o nosso património multifacetado e rico que nos pode livrar da irrelevância como povo e como nação). Se, a cavalo disso, o leitor ganhasse interesse por conhecer melhor essa História e esse património, seria ainda melhor. O conhecimento da História é, afinal, o conhecimento do que somos, e a compreensão do presente, é -passe a jactância- uma arma contra a alienação. Se eu puder contribuir, nem que seja um bocadito, para isso tudo, seria excelente.
Vê-se como um historiador que escreve romances ou um romancista que por acaso também é historiador?
Faço-me essa pergunta muitas vezes. Sou completamente incapaz de distinguir. No final, acho que as fronteiras entre a escrita histórica e a escrita romanesca/histórica são-me cada vez mais ténues…
A abordagem que nos faz da História é por norma sob um prisma suscetível de interessar ao grande público. Pensa num leitor definido enquanto escreve?
Não necessariamente. Ou, por outras palavras, gosto de pensar que estou a escrever para pessoas interessadas e curiosas, independentemente da sua habilitação literária. O que me importa é o seu interesse nestes assuntos.
A comunicação, neste caso, através do livro, é sempre um ponto de encontro. Penso sempre no eventual leitor nos moldes seguintes: devo escrever de uma forma que seja inteligível e atraente, mas sem concessões ao facilitismo. Se não for claro e inteligível, se for hermético, estarei a centrar-me no meu umbigo e alieno o leitor; se escrever de forma facilitista, estarei a infantilizar o leitor.
Desejo que o leitor venha ter comigo, como eu vou ter com ele. Encontramo-nos a meio caminho.
Os leitores dos seus ensaios ou romances tendem a cruzar-se ou maioritariamente cada um tende a ficar no seu nicho?
Por princípio, quem lê nunca ficará no seu nicho. O livro abre portas, mesmo quando estamos sós. Eu sei… isto é um bocado lírico, mas é o que penso. A verdade é que não sei o que faz quem me lê…
Gosto de pensar que durante aquelas horas de leitura, de partilha, estamos a comunicar, ou seja, lá nos encontraremos a meio caminho, como eu disse.
Do ponto de vista das conquistas sociais alcançadas, o caminho percorrido foi espantoso. O nosso sentido de exigência ou insatisfação tende a menorizar os feitos já alcançados?
Há uns anos constava que a taxa de suicídios era maior nos países ricos (falava-se muito da Suécia). Falava-se também da alta taxa de suicídios dos jovens japoneses. É verdade que muitas vezes a insatisfação é maior em países prósperos. Talvez isso tenha a ver o alto grau de expetativas nesses países, expectativas, muitas vezes, deslocadas e, por vezes, insatisfatórias, porque incumpríveis.
Não sei se é assim. O que sei é que tendemos a desvalorizar o muito que temos e que a nossa sociedade coloca à nossa disposição, porque é fácil alcançá-lo. O que é dado, é depreciado. E há injustiça nessa depreciação.
O que pretendo dizer é que o nosso grau de insatisfação tem muito a ver com a gestão das nossas expetativas e com o frequente menosprezo do que temos. Por não ter essa noção, há tanta gente que deprecia as conquistas alcançadas, ainda que muito esteja por alcançar (e muito do que temos possa estar em perigo). Há quem não queira votar, desprezando assim quantos sofreram para que tivéssemos esse inalienável direito; há quem deprecie a liberdade porque nunca viveu em ditadura.
Há muitos anos que, de geração em geração, se assiste a uma melhoria geral das condições de vida. De algum modo, esses indicadores e essa evolução podem estar em risco, pela deterioração social dos últimos anos?
Essa deterioração não começou nos últimos anos. Vejamos o contexto (numa explicação simplista, eu sei) em que tal deterioração começou a ocorrer.
Na década de 80, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos iniciou-se uma política de cariz ultraliberal assente (ontem como hoje) por quatro pontos; desregulação da economia; valorização do fator “capital”; desvalorização do fator “trabalho”; esboroamento do Estado Social. Foi o tempo da TINA (There is no alternative).
Isto veio dar um rombo tremendo nas classes médias, que deixaram de ter segurança laboral, que viram os seus salários depreciarem-se e viram os impostos sobre o trabalho aumentarem. Na década de 90 e seguintes, a este rombo veio associar-se outro: a globalização. Agora, as empresas deslocalizavam-se para o Terceiro Mundo, onde um operário ganhava muito menos e trabalhava muito mais (independentemente da idade…). Muitas fábricas fecharam, muitos empregos sumiram-se e a classe média perdeu ainda mais poder de compra.
Por seu turno, a desregulação económica, fez com que as crises económicas se tornassem desde então mais recorrentes que nas décadas anteriores. Mais um rombo… Veja-se a crise de subprime de 2007-2008, uma clara crise motivada por uma ganância desenfreada e sem controle.
Desde então, a classe média sente-se proletarizada e acossada (e está, em muitos aspetos). Ora, atrás falámos de “aprender com a História”. Pois cá vai uma lição da História: a proletarização da classe média conduz ao fascismo (recorde-se a crise de 1929 e a subsequente ascensão do nazismo).
Não por acaso, a ascensão dos populismos (que, para mim, têm algo de fascizante) ocorreu a partir da década de 90. E hoje vemos onde isso chegou, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa…
Sim, a nossa qualidade de vida está em risco. Basta dizer que não temos a certeza -como outrora- de que os nossos filhos terão uma vida melhor que a nossa…
O mesmo se aplica à liberdade de que gozamos. Os direitos humanos estão, hoje, mais seguros que há 20 anos? A liberdade de que gozamos é irreversível? Sabemos a resposta. E é triste.
Nesse sentido, espero que a História e a cultura nos ajudem a entender e a ultrapassar os perigos que enfrentamos. Gostaria de estar otimista.

